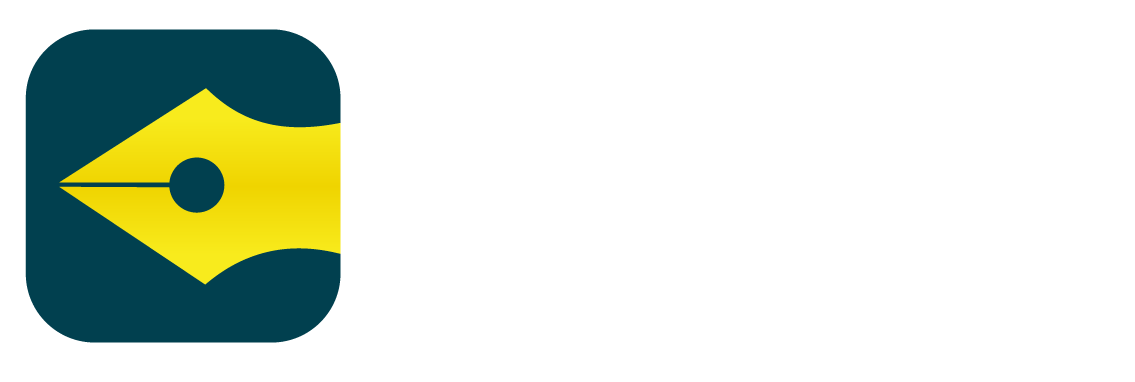Leio na ConJur (aqui) que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível penhorar parte do salário de — no caso — um policial para pagamento de dívida não alimentícia. Qual é o problema disso?
Para ser bem simples e didático: o CPC de 1973, no artigo 649, IV, proibia a tal penhora de vencimentos, proventos e quejandos, excetuando no parágrafo segundo que a impenhorabilidade não se aplicava à dívida por pensão alimentícia. Veio o novo CPC e disse a mesma coisa, abrindo a mesma exceção, passando a permitir, entretanto, a cobrança do débito de qualquer origem, incidente sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos. Claro e límpido assim. Está escrito. Qual seria a dúvida?
Ocorre que o STJ já não cumpria o CPC anterior, criando uma exceção a mais. Onde estava escrito “com exceção de dívida de alimentos”, o STJ lia “também outras dívidas, desde que não ficasse comprometida a subsistência mínima do devedor”. Claro: o que significa(va) “subsistência mínima” era produto da criação subjetiva do tribunal. Mutatis mutandis, é isso. Mesmo com o advento do CPC 2015 e a clara redação dizendo que salário (proventos, etc.) são impenhoráveis, com exceção de dívida alimentar e nos casos em que o devedor ganha mais de 50 salários mínimos, o STJ continua contrariando o CPC e assumindo o papel de legislador. Ignora a clareza do texto e cria uma norma que o contraria. De frente.
Pior: no caso específico, o STJ decidiu o caso em tela com base no CPC 1973, que nem tinha a exceção dos 50 salários mínimos. E, ao que consta, diante do novo CPC 2015, continua atuando como legislador.
O STJ, além de já ter reescrito o artigo 649 do CPC/73, agora reescreve o artigo 833, IV, parágrafo 2º, do CPC/2015. Para tanto, lança mão de argumentos de política e não de princípio (para usar uma linguagem cara para quem trabalha com teoria da decisão).[1] Ora, afirmar que “a jurisprudência da corte vem evoluindo no sentido de admitir a medida se ficar demonstrado que ela não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família” é, exatamente, lançar mão de argumentos de política e de moral. Só que, em uma democracia, esses juízos não são do Judiciário, data vênia. São do legislador.
Ou seja, o que quero dizer é que não adianta o judiciário “não gostar” da redação e/ou do limite de 50 salários mínimos ou do elenco de vedações constante no artigo 833. A menos que ele diga que é inconstitucional, fazendo jurisdição constitucional (teria que fazer um incidente, nos termos do CPC). Mas não vi isso. Sei que há doutrina que sustenta que o princípio da efetividade da jurisdição (toda a jurisdição não deve ser efetiva? Julgar conforme a lei não é fazer isso?) daria azo a que o credor pudesse buscar seu crédito e que o CPC não poderia ter feito isso. Sei também que existe doutrina criativa, ao ponto de invocar um “novo princípio”, o da utilidade da execução para o credor, além do curinga de sempre, o carcomido princípio da proporcionalidade. Pois é. Mas, insisto, trata-se de argumentos morais e de política. Funcionam retoricamente, admito. Mas retórica não pode superar uma lei, mormente uma lei votada bem recentemente. Veja-se: Se se dissesse que 50 salários mínimos é inconstitucional…, restaria a pergunta: Mas, então, de quantos salários mínimos se estaria falando? 40? 15? 12? Ora, isso é juízo do legislador e do executivo que pode vetar as escolhas legislativas. Outro problema: se 50 salários mínimos é inconstitucional (sic), então a exceção perderia totalmente o seu sentido. Afinal, o parágrafo, nessa parte do teto de 50 salários mínimos, fala de qualquer tipo de dívida… Compreendem?
Insisto: “valores não valem mais do que a lei”. Desejos e subjetivismos não podem substituir a lei. Juiz não pode ignorar a lei com base em princípios que ele mesmo inventou ou, ainda, mediante o uso de uma inexistente ponderação de princípios, que, por certo, deixaria corado o seu criador, Robert Alexy. Desafio que se demonstre que, em algum momento, havendo uma regra que estipula claramente determinada questão, Alexy aceitaria fazer uma ponderação que envolvesse, por exemplo, a colisão entre o mínimo existencial (como valorar?) e o direito de cobrar uma dívida (há direito fundamental nisso?),[2] pesando a balança, no final, a favor do patrimônio do credor. Seria a vitória do “princípio da dignidade do crédito”?[3] Espero não estar dando a ideia da criação desse “princípio”. E aqui vai um aviso para quem gosta de ponderar: conflito entre regras se resolve com a subsunção (pior: no caso, sequer existe conflito — ou colisão — de regras!). Na verdade, Alexy nunca tratou desse modo esse tipo de assunto. Ponderação (e a decisão do STJ chega a falar em ponderação, sim) é uma coisa complexa (ver aqui crítica que Rafael Dalla Barba e eu fizemos ao mal-uso da ponderação em julgamento no STF). Jamais Alexy disse que bastaria pegar um príncipio em cada mão e dizer uma palavra mágica como “estou ponderando” e… fiat lux.
Infelizmente, esse tipo de ato criador de direito feito pelo STJ tornou-se absolutamente corriqueiro. Basta ver juízes concedendo 180 dias de licença paternidade para pais de gêmeos (ler aqui minha crítica). Criou-se um certo imaginário pelo qual basta a lei não atender aos anseios do julgador ou da população (sem prognose) e… bingo: lasca um princípio ou às vezes nem isso. Apenas faz o velho confronto jusnaturalismo-direito positivo e diz: “— lei para mim tem de ser justa”. Pergunto: justa para quem?
Tenho insistido neste mantra: não é feio nem ruim, em um Estado Democrático de Direito, aplicar a “letra” da lei, podendo esta deixar de ser aplicada apenas em seis hipóteses. Fora disso, há um direito fundamental a que a lei seja aplicada. E não encontrei nenhuma das hipóteses presentes que justificassem a “criação de Direito” feito pelo STJ. Uma decisão judicial que afasta a exceção do artigo 833, IV, fora das exceções previstas no próprio dispositivo, seria/é casuística e ativista. Falta a ela o caráter (a possibilidade) de generalização. Isso para dizer o mínimo. Por isso é que inventaram uma coisa chamada “separação de Poderes”. Outra coisa: Não é proibido fazer sinonímias. O “não” não pode virar “sim”. Há sempre limites interpretativos. E não vou cansar os leitores, agora, para explicar, pela enésima vez, que não estou defendendo o juiz-boca-da-lei (é que sempre aparece alguém para dizer isso). Quem quiser ver isso mais de perto, perca alguns minutos e acesse este anexo, em que, num caso concreto, expliquei a trajetória do Direito do século XIX até hoje, em parecer jurídico que fiz em favor dos juízes do RJ absolvidos pelo TJ e “reprocessados” pelo CNJ. Deixo claro, no parecer, por que não é feio aplicar a lei. É desejável. Prudente. Republicano. E que isso não tem absolutamente nada a ver com positivismo[4] ou com formalismo ou com exegetismo ou com outro epíteto que se queira dar ao fenômeno “aplicar a lei em um Estado de Direito”.
Poderia parar por aqui. Mas penso que devo aproveitar o ensejo para avançar mais um pouco, e perguntar: Afinal, qual é o valor de uma lei ou de um Código? Otávio Luiz Rodrigues Jr, em sua tese de livre docência (A distinção sistemática e autonomia epistemológica do direito civil contemporâneo em face da Constituição e dos direitos fundamentais — USP), brinda-nos com um texto magnífico, que deveria ser colado na geladeira de cada lidador do Direito e, principalmente, por professores que gostam de “constitucionalizar” o Direito, como se as leis e códigos nada valessem, fazendo, ao revés, uma panconstitucionalização. É como se o direito civil, administrativo ou processual não tivesse um grau de autonomia epistemológica.
Otávio faz uma contundente crítica à invasão do direito civil por um certo principialismo, além do estrago feito pelo neoconstitucionalismo, as cláusulas gerais e um apetite de Moloch, cujo resultado é uma sobreconstitucionalização e um direito civil (e isso pode ser aplicado a outras disciplinas) cada vez mais fragilizado (por vezes, fagocitado no mau sentido da palavra).
Por que uso o texto de Otavio? Para mostrar que o STJ (e não só ele) acaba fragilizando o direito posto, que perde sua especificidade e seu desejável grau de autonomia, por intermédio de ponderações sem ponderação, tópica sem tópica, constitucionalização sem a Constituição. O Judiciário ignora o Direito posto e faz um novo, como se sofresse do “mal de Hedemann”, numa alusão ao pequeno livro A fuga para as cláusulas gerais: um perigo para o Direito e o Estado, escrito por Justus W. Hedemann.[5] O livro é de 1933, mas está absolutamente atual se confrontado com o que se vê na operacionalidade do Direito brasileiro, hoje. É isso: os estragos causados pela jurisprudência dos valores, pelo neoconstitucionalismo, pela errônea compreensão do conceito de positivismo (como se existisse somente o exegético), o uso inadequado e abusivo da ponderação – são elementos que formam uma tempestade perfeita para o incremento do decisionismo e solipsismo judicial (veja-se que já Josef Esser criticava o solipsismo teorético-jurídico).
Por isso é que escrevo esta coluna: para fazer uma crítica construtiva e respeitosa ao Tribunal da Cidadania. Portanto, escrevo a favor do Direito e de um STJ que aplique a lei. Em uma democracia, a aplicação da lei é a principal tarefa. E a Constituição Federal diz que o STJ é o guardião da legalidade. Portanto, é isso que esperamos do STJ. E do Parlamento, que legisle. Se legislar inconstitucionalmente, aí sim será corrigido. Ou se fará a adequação mediante o uso das seis hipóteses. Simples assim. Cada um com sua função.
1 Interessante é que o voto condutor diz que examinou a peculiaridade do caso. Mas, então, por que aplica a Sumula 7? Ou seja: se o STJ não pode reexaminar prova, como pode dizer que os 30% não diminuem o nível de vida do recorrente? E por que 30%? Qual é o critério? Não parece que o STJ seja o competente para definir o que seja o mínimo existencial. Essa tarefa é do legislador.
2 Sei também que na doutrina se fala que esse artigo 833 – que coloca a vedação e o teto de 50 salários mínimos – é tido como “salvo conduto” para devedores espertos e coisas do gênero. De novo, trata-se de um juízo meramente moral. Que, entretanto, não retira a prerrogativa de o legislador fixar esses limites. Além disso, em uma sociedade capitalista, o credor, ao fazer negócios, corre riscos. Um deles é a dificuldade de cobrar o seu crédito. Mas, cá para nós, o CPC é pródigo, em outros dispositivos, na proteção do credor.
3 Como me disse Marcelo Cattoni, por mail, ao discutirmos o assunto no apagar das luzes de 2017: O que essa decisão do STJ parece dizer é que a obrigação de saldar uma dívida é mais importante do que a garantia do salário. Mesmo para quem vive apenas do salário. De um ponto de vista “consequencialista”, típico de um realismo jurisprudencial, ela parece ser um recado para o mercado: “Não se preocupe, as dívidas deverão ser pagas, mesmo à custa dos salários”. Sem “equilíbrio contratual”, sem cláusula “rebus sic stantibus”: as dívidas deverão ser pagas. (E, assim, veremos até onde vai o desmonte das garantias sociais no Brasil…). Bingo, Marcelo!
4 Para quem quiser aprofundar o tema “positivismo”, sugiro o verbete do meu Dicionário De Hermenêutica(https://www.conjur.com.br/loja/item/dicionario-hermeneutica), onde também cito farta literatura estrangeira e brasileira (como Bruno Torrano, André Coelho, Horácio Neiva, entre outros.