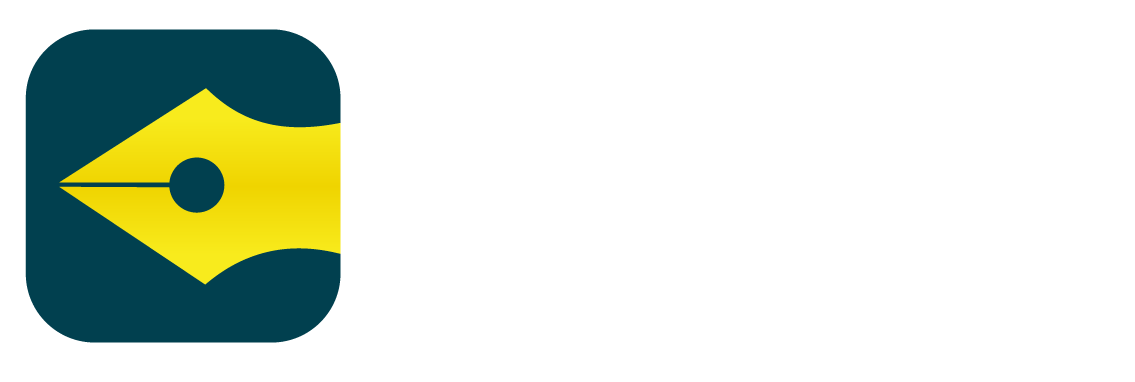(O registro de imóveis e os direitos reais – Sexta parte)
685. O registro de imóveis, enquanto formaliza o direito de propriedade imobiliária −vale dizer, enquanto o forma, determinando-o, atualizando e aperfeiçoando a matéria desse direito−, permite já, como ficou dito, a consecução da primeira função social do domínio.
É que, com a só circunstância de o registro constituir a propriedade predial em ato (pois, na maior parte das vezes, no direito brasileiro vigente, não há direito real imobiliário sem a forma registral), dá-se a observância da tendência correspondente ao domínio, certo que a inclinação ao fim é sempre ínsita à própria forma dos entes. Assim, seja num plano de satisfação objetiva −com a segurança resultante da demarcação da res objeto do domínio e da pessoa que a submete−, seja no da aquietação ou repouso do dominus com a fruição dominial (delectatio possessionis), o registro de imóveis é um meio muito propício a viabilizar as primeiras e mais relevantes finalidades objetiva (finis operis) e subjetiva (finis agentis) da propriedade imobiliária.
Todavia, se a inscrição aquisitiva é o tempo da culminância (kairós) desses fins aquisitivos da propriedade predial, já a demarcação e o deleite iniciais da aquisição não são exaustivos das finalidades do domínio imobiliário, e o registro de imóveis persevera em sua atuação, agora para conservar o status dominial, afirmando-se como importante instrumento de ordenação da propriedade privada.
Neste ponto, emergem questões palpitantes, dentre elas a (i) da intervenção estatal nos domínios prediais privados, a (ii) do cúmulo excessivo das propriedades e a (iii) da mobilização do imóvel.
686. Premidos pelo fracasso manifesto −moral e econômico− dos vários socialismos, algumas correntes, desiludidas da trágica empolgação com as planificações coletivas −o dirigismo social, econômico, educacional, cēt., que, com diversidade de graus, perambulou do socialismo marxista ao socialismo fascista e nazista, até chegar ao socialismo da social-democracia−, deixaram seduzir-se, em contraposição, pela tese do absenteísmo estatal, ou seja, pela opinião de que o estado não deva intervir, nullo modo, na atuação do mercado inteiramente livre (o “mercado puro”).
Parece, contudo, que, a despeito da evidência dos insucessos socialistas −neste passo, observou acertadamente Hans-Hermann Hope, que a substituição do regime de propriedade privada pelo de propriedade pública dos governos teve como processo paralelo o da “descivilização” (em outros termos, o “declive do Ocidente”, assim muito bem o referiu Christopher Ferrara)−, mas, repita-se: nada obstante o desastre dos socialismos, deve pôr-se em interdito o simplismo da afirmação contraposta às ideias coletivistas de que toda interferência estatal em matéria econômica tenha sido −e sempre o seja− um malefício. Insuspeito de simpatia alguma com os socialismos (em todo seu gênero), André Piettre (1906-1994), nas páginas de Les trois âges de l’économie, falou de uma intervenção estatal inevitável, “diante da carência das consciências e dos costumes”, uma intervenção benéfica que “aliviou muitas misérias: exploração vergonhosa do trabalho, desigualdade demasiado injusta das rendas e das cargas, baixa natalidade, crises, desemprego, etc., etc.” De fato, como também fez ver Jacques Germain, no clássico Le capitalisme en quéstion, “a sociedade do século XIX era uma selva de dura lei, tão desapiedada com os fracos quanto generosa com os fortes”, uma selva em que predominavam o “afã desenfreado de lucro” e a “livre concorrência”, e mais ou menos nesta linha, ainda em nossos tempos, o libertarianismo (ou anarcocapitalismo) apoia-se na ideia clave da inteira liberdade do mercado −uma liberdade sem peias, sem restrições morais, a ponto de que, tomemos isto emblematicamente, um de seus principais defensores, o norte-americano Murray Rothbard (1926-1995), partícipe da Escola Austríaca de Economia e que foi um dos grandes, senão o maior, herdeiro do pensamento de Ludwig von Mises, haja admitido o extremo utilitarismo dessa corrente, dizendo que “o pai deve ter o direito legal de não alimentar o menino, é dizer, de permitir que morra. A Lei, portanto, não pode, com propriedade, obrigar o pai a dar de comer ao menino ou mantê-lo com vida”.
Não se pense, no entanto, que essa liberdade do “livre mercado” tenha sido e ainda o seja tão livre quanto o nome ostenta e quanto seus sequazes a proclamam. Tome-se um exemplo a propósito: o concurso da atuação estatal em favor dos mais poderosos foi decisivo no quadro decimonônico do que se chamou de “horrores da vida industrial inglesa” (Alberto Nock), com seus “soldos de fome; horários mortais; condições laborativas vis e insalubres”, até mesmo com as célebres “barcas da morte”, em que se tentava escapar da grande escassez de alimentos. Para Christopher Ferrara, só com o conluio entre o estado e o capital privado foi possível produzir a revolução industrial na Inglaterra, e foi isto que esse autor designou de “latrocínio estatal das terras comunais”, levando à formação de “uma grande massa de capital humano −homens, mulheres e meninos− que não tiveram outra escolha do que trabalhar nas fábricas”. Recordemos que, entre as primeiríssimas medidas adotadas para a imposição do “livre mercado”, sempre esteve a proibição das corporações de ofício: na Inglaterra, a Combination Act, de 1799, visava a “evitar as uniões ilegais de trabalhadores”, e as Combination Law (1825) considerou ilícito civil e crime a simples associação de trabalhadores, sempre que as circunstâncias fossem suspeitosas de organização sindical. Eram os pequenos atirados à própria sorte diante da conjugação política e econômica do estado e do grande capital: tem-se aí um ensaio do que viria a ser um “socialismo liberal” (ou “liberal socialismo”).
As asserções frequentes acerca da corrupção política e da ineficácia dos estados em matéria econômica padecem, para logo, no entanto, do sofisma do acidente (fallacia accidentis), ao concluir ser essencial aos estados algo que emerge do fato de a gestão política, em dados casos, ser desonesta e pouco eficiente; isto, porém, é acidental na administração política. Não é só, entretanto. Bem observou Dante Urbina, ao desnudar os mitos da economia ortodoxa, que a circunstância de o estado ser mal não acarreta a conclusão de que o mercado inteiramente livre seja bom, ou seja, não leva a concluir que “dados los defectos del gobierno” haja de “dejárselo todo al capitalismo laissez faire”. Prossegue Urbina:
“Finalmente, y aquí es donde más debemos ponernos en guardia contra la estrategia neoliberal de criticar al Estado para luego proponernos un sistema fundado exclusivamente en el libre mercado desregulado, se nos vende una falacia de la disociación pues abstractamente se nos hace creer que la corrupción política y la corrupción económica (empresarial) son fenómenos separados, cuando en la realidad casi siempre se retroalimentan sinérgicamente.”
Em resumo, tanto o sistema de propriedade socialista, quanto o do mercado puro levam a insucessos econômicos e a situações injustas, de maneira que, de um lado, não se pode admitir a intervenção desmesurada do estado na vida econômica, social, cultural, educacional, etc. da comunidade política −lembremo-nos, a propósito, que o estado é apenas uma parte dessa comunidade, não lhe cabendo a absorção do que é próprio das demais partes comunitárias. Mas, de outro lado, à conhecida sentença de Alfredo Rocco “tutto nello Stato, niente contro lo Stato, nulla al di fuori dello Stato”, resumo comum do intervencionismo estatal, não se opõe, verdadeiramente, o entendimento de que o estado seja um mero “vigilante de los sacrossantos princípios liberales” (Javier de Miguel), com a recusa da participação estatal ou de sua intervenção direta nos intercâmbios econômicos. Porque o estado −prossegue Javier de Miguel− tem por fim “la búsqueda del bien común” e não a atuação, só supostamente neutra, de um árbitro que se posiciona, de fato e à partida, “al lado de las tesis liberales”. E tanto não são efetivamente contrapostas estas correntes −socialista, liberal e neoliberal (incluindo nesta última, por simplificação, a Escola Austríaca de Economia)− que elas comungam da mesma ideia de ser a propriedade um direito absoluto (discrepam se esse direito há de ser coletivo ou privado, mas não em que seja absoluto) e, ao fim, convergem na distopia de uma sociedade sem estado, culminância da ideologia marxista e tese abraçada pelos anarcocapitalistas.
687. Verdadeiramente, o critério −reto e já provadamente eficaz na história− a adotar neste campo, em ordem a estabelecer uma justiça econômica, é o que vem ditado pelo princípio de subsidiariedade, resumido graficamente nesta passagem atribuída a Luigi Taparelli D’Azeglio: o Estado não deve fazer, nem deixar de fazer, mas, sim, deve ajudar a fazer. Tal que, ad summam, haja tanta liberdade para os indivíduos e os corpos sociais quanto seja ela possível: assim o disse García Moreno, “libertad para todo y para todos, menos para el mal y los malhechores”; mas liberdade que não deixe sem solidariedade e sem socorro os que precisam de socorro e solidariedade, sempre tendo em vista a realização do bem comum. Deste modo, a defesa do bem da comunidade exige intervenções do estado exatamente para evitar que, em nome da liberdade, haja a licenciosidade de males opostos ao bem comum (p.ex., o abuso das drogas, a indústria da pornografia, o aborto, o detrimento dos mais fracos), pois que “entre le faible et le fort c’est la liberté qui opprime et c’est la loi qui libère” (Lacordaire).
A trajetória muito recorrente do intervencionismo estatal é a da tríade corrigir-proteger-dirigir (A.Piettre), mas quando se afirma legitimamente que o estado deve ajudar a fazer, não se quer, com isto, assentar que o estado restrinja as liberdades pessoais, pondo-se ele próprio a dirigir sem mais as condutas. O que calha, isto sim, é que, por primeiro, o estado haja de fomentar as ações, de maneira que beneficie as liberdades concretas, favorecendo-lhes o exercício, sem suprimi-las ou ditar-lhes fins que não sejam exatamente os do bem comum (A. Fridolin Utz). O estado, pois, deve sempre deixar fazer o moralmente lícito e estimular a que se cumpra o bem da comunidade. Ao fim, contudo −tomando-se em conta os valores indispensáveis de justiça−, o estado deve fazer, tem o dever de fazer, em substituição, as atividades que, sendo necessárias à consecução do bem comum, não possam (ou desleixem de) ser feitas pelos indivíduos e pelos corpos sociais menores, embora deva o estado fazê-las apenas enquanto, por sua natureza −p.ex., a função judiciária, a instituição do exército, da polícia, dos bombeiros− ou por motivos transitórios, essas atividades não possam ser (ou, de fato, não estejam sendo) diretamente exercidas pelos particulares (incluídos os grêmios), que, aliás, durante largos períodos da história, realizaram a contento muitas das atividades hoje assumidas indevidamente pelo estado (assim, v.g., a da educação).
O fato de os homens serem substâncias individuais importa em sua tendência primária de autoconservação, tendência de que emergem os direitos à vida, à integridade (física e moral) e o direito à propriedade. E quanto a esse direito, no campo dos bens imóveis, deve o estado ajudar a que o maior número possível de pessoas possa desfrutar da propriedade. Para isto, cabe ao estado favorecer a aquisição e a conservação dos domínios, estimulando, em frase de Richard Weawer, que a propriedade se distribua em propriedades menores, e que, assim, ela tenda a satisfazer um benefício mais amplo. A tanto, o domínio há de observar, disse-o Louis Salleron, duas indispensáveis condições: a de ser suficientemente estável e a de ser suficientemente fluido. Suficientemente estável em sua densidade e em sua duração, de modo que não se veja o dono ameaçado pela força, por restrições abusivas ou pelo despojo injusto do valor do bem. Suficientemente fluido, para que possa adquirir-se o domínio sem barreiras −financeiras, jurídicas, fiscais, psicológicas, sociológicas− que sejam demasiadamente custosas. Ambas essas condições têm no registro de imóveis uma instituição instrumental de primeira grandeza para bem se implementarem.