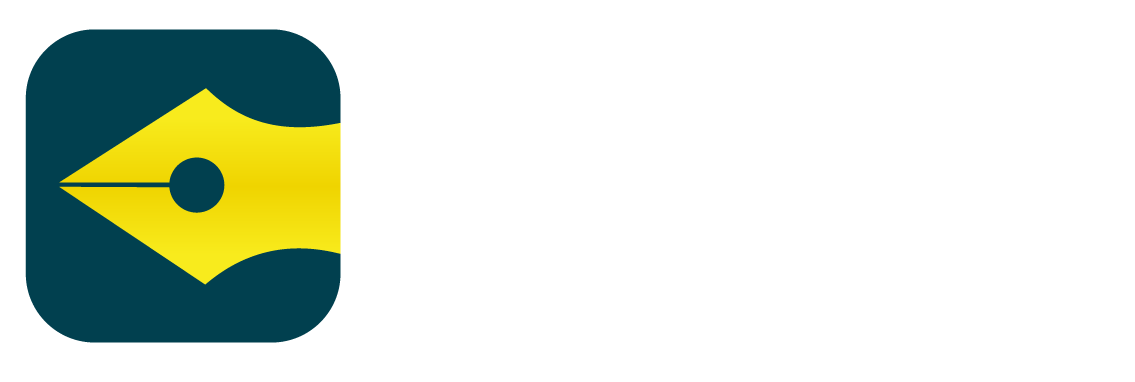As aplicações da autonomia privada ao Direito de Família estão novamente no cerne do debate neste momento, o que tem relação direta com uma tendência percebida nos últimos anos de “contratualização” da matéria. Como já desenvolvi em textos anteriores, a sua viabilidade foi analisada, em território brasileiro, no ano de 2014, quando da realização, na cidade do Recife, da XV Conferência Mundial da International Society of Family Law (ISFL). Nesse evento, houve um histórico e marcante painel do qual participaram os professores Frederik Swennen e Elisabeth Alofs, da Bélgica.
O primeiro jurista defendeu a premissa da “contratualização” e a segunda a “descontratualização”, em um raro debate de visões antagônicas e de profundos contrapontos doutrinários visto no Brasil. Ali se comparou a autonomia privada a um pêndulo e o professor Swennen demonstrou como ele poderia ser mais pesado no âmbito do Direito de Família. Esse peso se dá justamente pelo fato de existirem muitas normas cogentes ou de ordem pública no âmbito do Direito de Família, a limitarem a liberdade manifestada nos pactos firmados nesse campo. Justamente pela presença de um peso maior, muitos têm defendido a “contratualização” como uma suposta fuga dessa intervenção, o que acaba sendo um engano.
Sobre a definição do que seja a autonomia privada, essa pode ser conceituada como a liberdade de autorregulamentação negocial, ou seja, a liberdade que a pessoa tem de regular os seus próprios interesses. Nos dizeres de Francisco Amaral, que muito me influenciou, “a autonomia privada é o poder que os particulares têm de regular, pelo exercício de sua própria vontade, as relações que participam, estabelecendo-lhe o conteúdo e a respectiva disciplina jurídica. Sinônimo de autonomia da vontade para grande parte da doutrina contemporânea, com ela porém não se confunde, existindo entre ambas sensível diferença. A expressão 'autonomia da vontade' tem uma conotação subjetiva, psicológica, enquanto a autonomia privada marca o poder da vontade no direito de um modo objetivo, concreto e real” (AMARAL, Francisco. Direito Civil. Introdução. Rio de Janeiro: 5ª Edição, Renovar, 2003, p. 347-348).
Ademais, a autonomia privada – ao contrário da expressão autonomia da vontade – traz em seu conteúdo a necessidade imperiosa de respeito e de observância a normas de ordem pública e a outros princípios contratuais, como são, no caso do Código Civil Brasileiro, a função social do contrato (art. 421) e a boa-fé objetiva (art. 422).
No Direito Italiano, isso foi muito bem observado por Enzo Roppo, doutrinador cujo referencial a mim é conhecido, o que fez com que eu até o homenageasse dando o seu nome a um dos meus filhos. Segundo ele, “a autonomia e a liberdade dos sujeitos privados em relação à escolha do tipo contratual, embora afirmada, em linha de princípio, pelo art. 1.322.º c. 2 Cód. Civ. estão, na realidade, bem longe de ser tomadas como absolutas, encontrando, pelo contrário, limites não descuráveis no sistema de direito positivo” (O contrato. Coimbra: Almedina, 1988. p. 137). Reconhece Roppo, na sequência de sua obra, a existência de claras restrições à vontade manifestada nos negócios. Primeiro percebe-se uma limitação sobre a própria liberdade de celebrar ou não o contrato. Em outras ocasiões, sinaliza o grande jurista italiano que as limitações são também subjetivas, pois se referem às pessoas com quem as avenças são celebradas. A realidade jurídica brasileira nunca foi e não é diferente.
No campo dos contratos e dos negócios jurídicos em geral, a autonomia privada se desdobra em duas liberdades. Inicialmente, percebe-se a liberdade para a celebração dos pactos e avenças com determinadas pessoas, sendo o direito à contratação inerente à própria concepção de pessoa um direito advindo do princípio da liberdade. Essa é a liberdade de contratar, que está relacionada com a escolha da pessoa ou das pessoas com quem o negócio será celebrado, bem como com o momento em que se contrata, sendo uma liberdade plena, pelo menos em regra e na grande maioria das vezes. De fato, poucas e raras devem ser as restrições a essa liberdade de contratar.
Em outro plano, a autonomia pode estar relacionada com o conteúdo do pacto, ponto em que residem limitações maiores à liberdade da pessoa. Trata-se, portanto, da liberdade contratual, que tem relação específica com as previsões que as partes escolheram para a regulamentação dos seus interesses, com as cláusulas contratuais propriamente ditas.
Dessa dupla liberdade do sujeito contratual é que decorre a autonomia privada, que não é absoluta, encontrando limitações em normas de ordem pública e outros princípios, afirmação que existe em nosso Direito desde sempre. Filio-me, portanto, à parcela da doutrina que propõe a citada substituição do princípio da autonomia da vontade pelo princípio da autonomia privada também diante dessas notórias restrições. Como sustenta Fernando Noronha “foi precisamente em consequência da revisão a que foram submetidos o liberalismo econômico e, sobretudo, as concepções voluntaristas do negócio jurídico, que se passou a falar em autonomia privada, de preferência à mais antiga autonomia da vontade. E, realmente, se a antiga autonomia da vontade, com o conteúdo que lhe era atribuído, era passível de críticas, já a autonomia privada é noção não só com sólidos fundamentos, como extremamente importante” (O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, justiça contratual. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 113).
Por isso, tenho sustentado que são desatualizadas normas recentes que utilizam o superado termo autonomia da vontade, caso da Lei de Mediação (lei 13.140/2015, art. 2.º, inc. V) e da Reforma Trabalhista (lei 13.467/2017). A propósito, a Medida Provisória 881, de 2019, também trazia a expressão autonomia da vontade no seu art. 3.º, inc. V. Porém, de forma correta, na sua conversão na Lei da Liberdade Econômica, o dispositivo passou a utilizar a expressão autonomia privada, no sentido de ser um dos direitos de concretização dessa liberdade, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, “gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal em contrário” (lei 13.874/2019).
Em complemento, como tenho sustentado, a própria Lei da Liberdade Econômica acabou por positivar o princípio da autonomia privada, valorizando a liberdade contratual, desde que isso não contrarie normas cogentes ou de ordem pública. Nesse sentido, merece destaque o seu art. 3º, inc. VIII, que prevê, como outro direito de concretização da liberdade econômica, “ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avençado, exceto normas de ordem pública”. O texto é bem melhor do que o originário, que constava da MP 881, que chegava a estabelecer que uma parte de um contrato empresarial não poderia alegar lesão a norma de ordem pública que ela própria inseriu. Por intervenções de muitos juristas no Congresso Nacional – por frentes distintas, caso deste autor -, a norma foi consideravelmente alterada para a sua redação atual.
Não se olvide que o principal foco da Lei da Liberdade Econômica é o contrato civil ou empresarial paritário, com conteúdo amplamente negociado entre as partes, geralmente em posição de igualdade. E, mesmo em tais contratos, celebrados entre grandes e poderoso agentes econômicos, há a necessidade de se observar os preceitos de ordem pública. A lei mais “liberal” do nosso país traz essa ressalva…
O que dizer, então, das relações familiares, sobretudo as relações estabelecidas entre cônjuges e companheiros, em que geralmente se defende e se prega a “contratualização”? É claro que também nos pactos firmados entre eles, muitas vezes como hipossuficiência econômica de uma das partes, há que se respeitar as normas cogentes. Isso, aliás, está previsto no art. 1.655 do Código Civil, ao controlar a validade das previsões constantes do pacto antenupcial, in verbis: “é nula a convenção ou cláusula dela que contravenha disposição absoluta de lei”. Como “disposição absoluta de lei”, entendam-se justamente as normas de ordem pública, premissa que também se aplica aos contratos de convivência, firmados entre companheiros.
A título de exemplo de sua subsunção, serão nulas as seguintes cláusulas constantes do pacto antenupcial ou em contrato de convivência, diante da existência de normas de ordem pública ou de matéria cogente, que visam a uma determinada proteção: a) previsão contratual que estabelece que o marido, nos regimes da comunhão universal ou parcial de bens, possa vender imóvel sem outorga conjugal, afastando o art. 1.647, inc. I, do CC; b) cláusula que determina a administração dos bens de forma exclusiva pelo marido, pois a mulher é incompetente para tanto, afastando a isonomia constitucional; c) cláusula que estabeleça a renúncia prévia aos alimentos, infringindo a absoluta regra do art. 1.707 do CC; d) cláusula que regulamenta previamente as regras referentes à guarda dos filhos, para o caso de divórcio do casal; e) cláusula que imponha multa para caso de infidelidade, sendo certo que as perdas e os danos não podem ser fixados previamente em casos tais, pois a eventual responsabilidade que surge do fim do vínculo tem natureza extracontratual, envolvendo questões de ordem pública; f) cláusula que afaste o regime da separação obrigatória de bens nas hipóteses descritas pelo art. 1.641 do CC; e g) cláusula que exclui expressamente o direito sucessório do cônjuge sobrevivente, afastando as regras da sucessão legítima e trazendo a renúncia prévia à herança, havendo claro pacto sucessório, em infringência ao art. 426 do Código Civil.
A respeito do último exemplo, a propósito, em hipótese concreta em que houve a tentativa de se criar um regime de separação total de bens com efeitos sucessórios, para que não houvesse herança no caso concreto, violando a proibição das pacta corvina, julgou-se que “as normas de direito sucessório dispostas no Título II, Capítulo I, do Código Civil (artigos 1.829 e seguintes) são de caráter cogente, não se admitindo disposição em contrário, revestindo-se de nulidade, nos termos do artigo 1.655 do Código Civil, toda e qualquer norma que confronte disposição legal” (TJMT, Apelação 15809/2016, Capital, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.06.2016, DJMT 24.06.2016, p. 82).
Na mesma linha, sobre a tentativa de se afastar a concorrência sucessória por meio de pacto antenupcial, o que é nulo, mais uma vez por infração ao art. 426 do Código Civil: “o Código Civil de 2002 trouxe importante inovação, erigindo o cônjuge como concorrente dos descendentes e dos ascendentes na sucessão legítima. Com isso, passou-se a privilegiar as pessoas que, apesar de não terem qualquer grau de parentesco, são o eixo central da família. Em nenhum momento o legislador condicionou a concorrência entre ascendentes e cônjuge supérstite ao regime de bens adotado no casamento. Com a dissolução da sociedade conjugal operada pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente terá direito, além do seu quinhão na herança do de cujus, conforme o caso, à sua meação, agora sim regulada pelo regime de bens adotado no casamento. O artigo 1.655 do Código Civil impõe a nulidade da convenção ou cláusula do pacto antenupcial que contravenha disposição absoluta de lei” (STJ, REsp 954.567/PE, 3.ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 10.05.2011, DJe 18.05.2011). Como consta do voto do relator, “a pretensão da recorrente de que o pacto antenupcial teria excluído o viúvo da sucessão dos bens próprios da falecida não prospera, porquanto o artigo 1.655 do Código Civil impõe a nulidade da convenção ou cláusula do pacto antenupcial que contravenha disposição absoluta de lei”.
Como última nota de relevo sobre o tema deste breve artigo, é fundamental deixar claro que a eventual nulidade de cláusula do pacto antenupcial não pode prejudicar o restante do ato, o que é a aplicação do princípio da conservação dos negócios jurídicos, que visa justamente à manutenção da autonomia privada, também quanto ao que foi pactuado entre as partes em sede de casamento ou união estável. Assim, a parte útil do negócio jurídico não fica viciada pela inútil, aplicando-se a máxima utile per inutile non vitiatur. Como está previsto no art. 184, primeira parte, do CC, “respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável”. No campo dos contratos, tem-se associado essa conservação à sua função social, como preceitua o Enunciado n. 22, da I Jornada de Direito Civil: “a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas”. No meu entendimento, sendo reconhecida a “contratualização do Direito de Família”, além do respeito às normas de ordem pública, é preciso valorizar essa ideia de preservação da autonomia privada, sempre que isso for possível.