A proteção patrimonial legal estimula a atividade econômica, evitando punições severas para empresários que agem corretamente, como exemplificado na trajetória de sucesso e falência de sr. Antônio
Este texto pretende demonstrar, à luz da legislação societária e das normas contábeis, que a proteção patrimonial lícita desempenha importante eixo de estímulo à atividade econômica. Por outro lado, a não proteção produz efeitos diametralmente opostos. Afinal, é desestimulante ao empresário que age de forma escorreita ser punido desmedidamente no caso de insucesso não intencional de sua atividade econômica.
Antes do direito, porém, uma estória inspirada em fatos reais. Na década de 30, sr. Antônio abriu uma pequena venda de secos e molhados. Nos anos 2000, aquela aparentemente despretensiosa empreitada refletia um conglomerado de quase 70 lojas de departamento, móveis, eletrodomésticos e utilidades para o lar. Como fruto desse sucesso, nasceram também empreendimentos no mercado bancário e, claro, a acumulação imobiliária e mobiliária.
Na metade da segunda década do século 21, as atividades de varejo do Sr. Antônio amargaram irremediável revés e, após uma tentativa de recuperação judicial, foi inevitável a decretação da falência.
No processo de falência, o administrador judicial manejou violento pedido de desconsideração da personalidade jurídica objetivando atingir todas as pessoas físicas e jurídicas vinculadas aos sucessores do sr. Antônio. Entretanto, o pedido não foi fundamentado em nenhum ato de abuso da personalidade jurídica, mas apenas no fato de existir, entre os membros da família (sucessores de Antônio), um grupo econômico. Para piorar, os sócios indiretos da falida são nominados falidos no pedido, a despeito de a falência ser da sociedade.
Muitos de vocês, aqui leitores, já se depararam com histórias semelhantes, em maior ou menor grau. O que nos falta, para além de discutir casuisticamente a defesa dos interesses patrimoniais dos atingidos na estória acima, é analisar os impactos econômicos por trás da ânsia expropriatória em situações como essas.
Qual será o real interesse de empreender novos negócios se o eventual futuro insucesso de qualquer atividade anterior puder levar à bancarrota de todos? Após uma certa acumulação patrimonial, o que levaria o empreendedor a continuar empreendendo, se isso importar em um risco integral, cíclico e sistêmico?
No popular1 (e já descontinuado) programa Show do Milhão, por exemplo, a cada etapa vencida, o candidato tinha a opção de avançar à próxima em busca de maiores resultados ou desistir, garantindo o que já havia conquistado até ali, ainda que com perdas2. Em avançando, poderia perder tudo.
É compreensível o desejo de proteger o que foi conquistado, assim como o apetite por mais risco e mais resultados. Isso impacta nas regras de julgamento dos empresários.
A retração de um jogador televisivo não interfere na economia, na geração de emprego e renda, na arrecadação de impostos, no desenvolvimento da inovação. O Show do Milhão não desempenha nenhuma função social.
Diferentemente, ocorre na atividade econômica. Imagine se o sr. Antônio tivesse optado por não empreender novos negócios por medo de perder o que havia conquistado com a sua primeira loja. Milhares de empregos teriam deixado de ser criados. Milhões (ou até bilhões) de reais teriam deixado de ser recolhidos. Haveria menor concorrência, em prejuízo do consumidor.
Para assegurar que o medo não paralise o empreendedor, nosso ordenamento jurídico dispõe de um conjunto de regras esparsas que objetivam segregar os riscos e os resultados colhidos de cada atividade econômica.
A primeira e mais importante delas é a autonomia da personalidade jurídica. Com a revogação do Código Civil de 1916, ficamos carentes de norma clara e direta sobre esse Princípio. O código de 16 previa, em seu Art. 20, que “as pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros”.
Após a revogação, foram 16 anos sem expressa e específica positivação do Princípio da Autonomia da Personalidade Jurídica, até o advento da MP 881/19, posteriormente convertida na lei 13.874/19 (LLE – lei da liberdade econômica).
Com ela, o Código Civil ganhou o Art. 49-A e seu parágrafo único, que assim estabelecem:
Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.
Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.
A emenda saiu bem melhor que o soneto. Além da recriação repaginada do vetusto art. 20 do CC/16 no caput do Art. 49-A, o parágrafo único selou a função social da proteção patrimonial (blindagem patrimonial) através da segregação e alocação de riscos em diferentes pessoas (físicas e jurídicas).
De qualquer forma, o Código Civil, ainda que de maneira tímida e indireta, já expressava esse direito de segregação interpessoal de riscos.
Os arts. 1.009 e 1.059, materializando o princípio da Intangibilidade do Capital Social, estabelecem a responsabilidade de recomposição, pelos sócios, de valores retirados da sociedade em prejuízo do capital social, o que conhecemos como lucros fictícios.
Os mencionados dispositivos são relevantes, na medida em que, como regra, os valores distribuídos regularmente aos sócios saem do patrimônio da sociedade, a ela não mais pertence, não estando mais sujeitos aos seus riscos futuros, passando a integrar o patrimônio de outra pessoa – o sócio – que não se confunde com a pessoa da sociedade. Pouco importa se esse sócio é pessoa natural ou outra pessoa jurídica.
Os frutos colhidos pelos sócios, a cada exercício de sucesso e lucro, não devem compulsoriamente volver à sociedade se não foram colhidos de maneira ilícita, por distribuição de lucros fictos. Por conseguinte, também não podem suportar os riscos futuros de uma pessoa jurídica os bens e outras sociedades derivadas dos frutos colhidos do sucesso de exercícios anteriores. Qualquer interpretação em sentido contrário torna inúteis os arts. 1.009 e 1.059 do Código Civil e fere o Princípio da Autonomia da Personalidade Jurídica.
As normas contábeis completam essas conclusões. Os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, entidade criada a partir da Resolução 1.055/05 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade, estabelecem os nortes para a adequação contábil e, consequentemente, para a apuração correta dos lucros líquidos passíveis de distribuição lícita a título de dividendos pagos aos sócios. Destacam-se os pronunciamentos CPC 26 (apresentação das demonstrações contábeis), CPC 21 (demonstração intermediária) e CPC 25 (provisões, passivos contingentes e ativos contingentes).
Estando adequada a contabilidade e observadas as normas legais e as técnicas aplicáveis, os lucros reconhecidos e pagos como dividendos geram um destaque patrimonial da sociedade pagadora, confirmando que, naquele período apurado, a pessoa jurídica era superavitária.
A cada exercício, essa apuração é realizada e, com ela, a segregação patrimonial dos frutos (dividendos) colhidos. Somente assim faz sentido ao empresário manter-se em empreendimento e evoluir para novos, gerando resultados em benefícios de todos. Voltamos à comparação com o programa Show do Milhão. No programa, não há investimento feito pelo participante. Se desiste ou prossegue, arrisca apenas o que ganhou (literalmente). E, se se acovarda e desiste, não gera desemprego, retração econômica.
Outro dispositivo do Código Civil que, de maneira indireta, garante essa autonomia da personalidade jurídica é o Art. 50. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica ali previsto é ferramenta de combate ao mau uso dessa personalidade, o seu abuso. O Código Civil não admite que o mero inadimplemento de obrigação social seja causa bastante para o afastamento da autonomia da personalidade jurídica.
Mesmo nas relações de consumo, trabalho e em casos de danos ambientais, situações em que historicamente se admite a aplicação da teoria menor da desconsideração em razão da teoria do risco proveito, a jurisprudência tem evoluído positivamente para restringir sua aplicação apenas aos sócios que tenham poderes de gestão ou poderes políticos relevantes.
A despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5º do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem, embora ostentando a condição de sócio, não desempenha atos de gestão, ressalvada a prova de que contribuiu, ao menos culposamente, para a prática de atos de administração. (REsp 1.900.843/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/23, DJe de 30/5/23.)
A reforma trabalhista também trouxe uma relevante contribuição à segregação de riscos e à proteção patrimonial lícita. A inclusão do parágrafo terceiro no art. 2º da CLT restringiu a corresponsabilidade de empresas que compõem grupo econômico.
A partir dessa mudança, a mera identidade de sócios de diferentes sociedades não mais pode ser causa para corresponsabilização entre elas. É preciso “a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes”.
Observa-se a necessidade da presença de três requisitos cumulativos. O novo texto flerta com a dinâmica do abuso da personalidade, exigido pela regra geral da desconsideração, nos termos do art. 50 do CC.
Com a lei da liberdade econômica (lei 13.874/19), o mencionado art. 50 do CC passou a contar com o parágrafo quarto, que estabelece que a “mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”.
Isso impactou, também, na relação processual. A 4ª turma do STJ, em 2023, decidiu que a mera existência de grupo econômico não autoriza o redirecionamento da execução na fase de cumprimento de sentença em face de outras empresas do grupo que não tenham participado da fase de conhecimento:
Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2º, do CDC e 133 a 137 do CPC/15. (REsp 1.864.620/SP, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/23, DJe de 19/9/23).
Outra mudança sofrida pela CLT pode alterar o rumo do instituto da desconsideração aplicado sob ótica da teoria menor. A partir do art. 855-A da CLT, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos Arts. 133 a 137 do CPC, passou a ser aplicado nos processos de relações jurídicas laborais, garantindo o exercício da ampla defesa e do contraditório nesses casos. Segundo o órgão julgador, essa nova dinâmica seria incompatível com a aplicação da desconsideração pela teoria menor.
No julgamento do Agravo de Petição 0010404-55.2016.5.03.0030, o TRT-3 deu provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinar a exclusão dos sócios agravantes do polo passivo da execução sob esses exatos fundamentos:
A determinação de adoção do referido procedimento, ao garantir o direito de defesa ao sócio, deixa clara a intenção do Legislador em vedar a desconsideração da personalidade jurídica pelo mero inadimplemento da dívida pela empresa, como vinha sendo feito na esfera trabalhista, o que dispensaria qualquer produção de provas. Portanto, não é mais admissível a aplicação subsidiária da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código de Defesa do Consumidor ao processo do trabalho, eis que esta não se harmoniza com as novas regras procedimentais da CLT.
Nessa toada, para além da restrição da aplicação da teoria menor a determinados sócios (com poderes de gestão ou poderes políticos relevantes), como se observa na atual orientação do STJ, a própria teoria menor estaria em xeque, o que melhor se amoldaria ao princípio da autonomia da personalidade jurídica e seu pilar maior, o princípio constitucional da livre iniciativa.
Obviamente, as construções feitas nesse texto não pretendem albergar os infratores, aqueles que fazem mal uso da personalidade jurídica. As fraudes, no seu sentido mais amplo, devem ser punidas e a punição deve contribuir como condutor.
Não são poucas as decisões que, acertadamente, afastam a autonomia da personalidade jurídica para atingir bens além da sociedade originalmente devedora, quando observados comportamentos abusivos, fazendo menção à blindagem patrimonial de forma pejorativa:
Assim, resta evidenciada a existência das empresas coligadas de um único grupo econômico familiar, que se revestem de personalidades jurídicas aparentemente distintas, de modo a caracterizar forma dolosa de blindagem patrimonial contra credores, incorrendo em desvio de finalidade e confusão patrimonial que autorizam o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro art. 50 do Código Civil com inclusão de todas elas no polo passivo da execução.
No caso, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, consignaram que ficou demonstrada confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas que integram o grupo societário, pois exploram o mesmo ramo de negócios, atuam no mesmo endereço e detêm idêntico quadro societário. (AREsp 2.505.856/SP, ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 9/5/24.)
Mas nem toda blindagem é abusiva ou fraudulenta.
No título desse texto, a expressão sensacionalista blindagem patrimonial precedida de um instituto tão relevante quanto a função social, é, no mínimo, intrigante. Mas é preciso aqui destacar que a palavra ‘blindar’ não pode ser automaticamente associada à ilicitude. Aliás, é apenas no universo jurídico empresarial que a expressão é usada em contexto pejorativo. Afinal, são blindados automóveis, casas, cabos de transmissão de dados. Até mesmo pessoas podem ser sentimentalmente blindadas.
Fato é que o Princípio da Autonomia da Personalidade Jurídica foi reconhecido pela legislação como um instrumento de estímulo ao empreendimento, à geração de empregos, tributo, renda e inovação através da alocação e segregação de riscos. E isto é blindagem. E seus efeitos se revertem em benefício de todos.
No julgamento do Agravo em REsp 1.675.017/PR, o ministro Sérgio Kukina manteve decisão do TJPR que afastou a imunidade do ITBI na integralização de imóvel na formação de capital social de “holding familiar constituída com a finalidade de blindagem patrimonial”.
Na decisão, o min. Kukina destacou trecho da decisão de 2ª instância por ele mantida, em que afirmava o “objetivo da criação da empresa, aparentemente, é o planejamento tributário, sucessório ou a blindagem patrimonial dos sócios. Obviamente esta é uma medida legal, a priori”.
Por essa razão, não podemos temer o uso da palavra blindagem. Ao contrário, devemos dela fazer uso, principalmente na estruturação de negócios.
É muito mais fácil convencer um Tribunal de que a estruturação societária foi especificamente pensada para gerar blindagem patrimonial sobre os frutos licitamente colhidos e que o venham a ser, do que, posteriormente, ter que fazê-lo já em fase de execução.
Tenhamos a coragem de, nas estruturações e reestruturações societárias envolvendo múltiplas pessoas jurídicas, estabelecer, nos tão importantes considerandos, que um dos objetivos é a blindagem com fundamento no art. 49-A e, especialmente, em seu parágrafo único, do CC.
Creio que, assim, nossas teses defensivas poderão ser lidas e percebidas com mais respeito. Afinal, é preciso coragem para defender o certo que mais parece incerto aos olhos dos julgadores.
———————
1 Além da popularidade entre telespectadores, o universo jurídico foi bastante impactado com o leading case envolvendo um episódio do programa, quando o Poder Judiciário aplicou em favor do participante a teoria da perda de uma chance.
2 O programa teve diferentes edições com diferentes regras.
Fonte: Migalhas
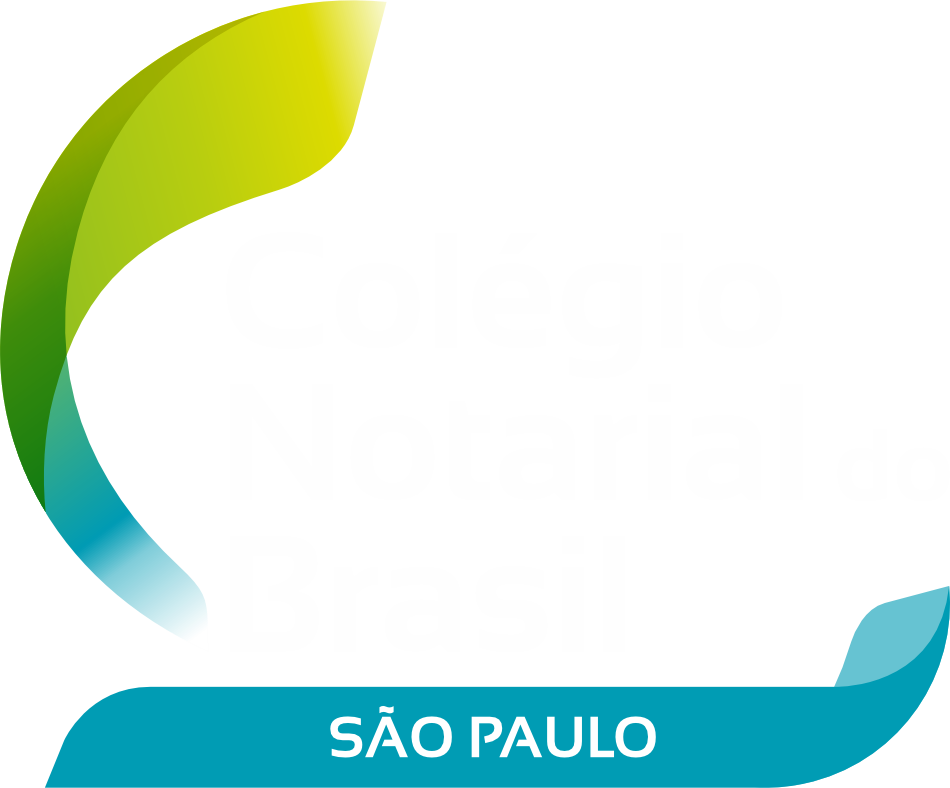


Deixe um comentário