Na atual conjuntura sócio-jurídica, pessoas transgênero têm, por força cogente dos precedentes colacionados pelo Supremo Tribunal Federal no ordenamento jusconstitucional, o direito oponível de existir, a viver e a se portar da maneira que lhe for plausível (vide Tema 761 de Repercussão Geral; ADI 4.275; ADPF 572; ADO 26/MI 4.733;).
Todavia, apesar das pessoas transgênero terem a habilidade constitucionalmente preponderada de, em vida, ressignificar a sua identidade conforme os direitos de personalidade as permitem, este direito fundamental não é plenamente observado quando do seu óbito.
Apesar de compor uma minoria de 2% da população brasileira, convertido em números absolutos como 3 milhões de pessoas [1], a população trans é um dos segmentos mais atravessados pela violência no Brasil, levando ao lastimável recorde global do nosso País ser a nação que mais mata pessoas trans no mundo [2].
Isso versa diretamente sobre a difusão de direitos constitucionais assentados no processo de formulação que foi protagonizado pelo povo junto ao poder constituinte originário, pois o direito à vida tem estatura constitucional especialíssima na ordem jurídica pátria (artigo 5º, caput, CRFB), assim como os direitos à personalidade, à vida privada, à intimidade, à imagem e à honra dos cidadãos (artigo 5º, X, CRFB).
Portanto, além da clara infringência do direito das pessoas trans a viverem em paz e segurança, ainda materializamos um cenário temerário que as impõe constrangimento mesmo em uma realidade post mortem, pois pessoas que não se conformam ao gênero que lhes foi designado no nascimento, independentemente de em vida terem usufruído da sua autonomia privada de maneira diversa ao gênero que lhes foi atribuído, ainda tem o último ato de celebração da sua passagem na Terra maculado por uma identidade morta que não mais as contemplavam.
Não bastasse a já horrenda estatística de empregabilidade, de sociabilidade e de mortandade, as pessoas trans ainda são acometidas com a degradação póstuma de ostentar em suas lápides e nos seus registros públicos de óbito, preenchidos pelo Estado pontua-se, uma pessoa que já tinha morrido em vida. Uma identidade que não existia mais como antes, mas que foi violentamente imposta sobre a memória fúnebre que os entes queridos manterão desta pessoa.
Imprescindível salientar que a atividade precípua do jurista — interpretar a norma — não se encerra na literalidade do texto normativo do qual se extrai um comando. Como lembra o professor Menelick de Carvalho Neto, o texto legal e as suas idiossincrasias são o mero objeto-meio da atividade hermenêutica[3].
Logo, nesse sentido, não está adstrito a nossa função dentro da jurisdição constitucional à viabilidade de implementação de políticas públicas do que se deduz literalmente do que foi editado na redação do artigo 80, § 3º da Lei nº 6.015/73.
Como admoesta o professor Paulo Gonet Branco, [I]nterpreta-se um preceito para dele se extrair uma norma (uma proibição, uma faculdade ou um dever) e com vistas à solução de um problema prático. Daí que tanto o texto como os fatos a que ele se refere são importantes para a inteligência a se formar. É sempre oportuno o aviso de Eros Roberto Grau, quando concita a que não nos esqueçamos de que “os textos normativos carecem de interpretação não apenas por não serem unívocos ou evidentes — isto é, por serem destituídos de clareza —, mas sim porque devem ser aplicados a casos concretos, reais ou fictícios” [4].
É de se esperar que essa usina de ilegalidades convide algum tipo de ação positiva do poder público. Como leciona o magistério do professor Gilmar Ferreira Mendes sobre o dever positivo do Estado na proteção de direitos fundamentais, “a questão sobre a liberdade discricionária outorgada ao legislador, bem como sobre os limites dessa liberdade, é uma questão jurídica suscetível de apreciação judicial. […] Por outro lado, o poder de legislar contempla, igualmente, o dever de legislar, no sentido de assegurar uma proteção suficiente dos direitos fundamentais” (Untermassverbot) [5].
Valores constitucionais
Calcado no poder-dever estatal de resguardar a efetividade dos princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da vedação à discriminação, seja em sua dimensão de vedação à discriminação direta ou indireta, esta ação carrega no seu âmago a capacidade ímpar de postular valores constitucionais que são indispensáveis para a plena compatibilização do regime político vigente com os princípios democráticos [6].
Acentuou o ministro Celso de Mello em voto paradigmático na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 26 que “[A] incompatibilidade entre a conduta positiva exigida pela constituição e a conduta negativa do poder público omisso configura-se na chamada inconstitucionalidade por omissão. Note-se que esta omissão poderá ser absoluta (total) ou relativa (parcial)”, como afirma Gilmar Mendes, pois “a total ausência de normas, como também a omissão parcial, na hipótese de cumprimento imperfeito ou insatisfatório de dever constitucional de legislar” (Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 289) [7].
Não há possibilidade de via democrática sem uma coerência sistemática que materialize os direitos de pessoas trans que infelizmente têm as suas vidas ceifadas pelas mazelas de uma sociedade intolerante e estruturalmente preconceituosa.
A tutela estatal sobre o princípio da dignidade da pessoa não se redunda a um mero predicado inócuo do ordenamento, mas sim à mola mestre sobre a qual repousa o léxico fundante do Estado democrático de direito e seus valores.
Como lembra Ingo Sarlet, o princípio da dignidade humana circunda “um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos” [8].
Tal axioma induz, portanto, a possibilidade de constituir por meio do projeto de sociedade conjurado pelo povo brasileiro em 1988 a sua efetividade máxima. É a razão de ser de um laboratório da democracia, não pela definição adstrita selecionada por um sufrágio universal que visa a cercear os modelos de autoconformação dos indivíduos, mas sim de agregá-los à gramática social como fenômenos antropológicos sobre os quais incidem a pluralidade de corpos e de compleições afetivas e de gênero.
Assentou o Supremo Tribunal Federal em jurisprudência recente que o direito à autodeterminação de gênero configura tema de magnitude constitucional privativa do ser humano para desenvolver autonomamente.
Lê-se o teor do acórdão ementado in verbis:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E REGISTRAL. PESSOA TRANSGÊNERO. ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO NO REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME, AO RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, À LIBERDADE PESSOAL, À HONRA E À DIGNIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO OU DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS HORMONAIS OU PATOLOGIZANTES. 1. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero. 2. A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. 3. A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer por autoidentificação firmada em declaração escrita desta sua vontade dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade. 4. Ação direta julgada procedente[9].
Importante ressaltar que, conforme o teor continente de unidade, completude e coerência ao qual se submete o ordenamento jurídico, os princípios da igualdade e da dignidade humana se unem em comunhão de desígnios. Para se atingir a plenitude da dignidade humana, as igualdades formal e material devem ser equivalentes na preponderância sistêmica do trato com os desiguais na medida de sua desigualdade.
Há precedentes do STF e de demais tribunais superiores que atestam isto, combinando todos estes princípios como signos atinentes ao mesmo complexo de valores que arquitetam a relevância sistêmica de um aparato estatal que objetiva mobilizar os seus esforços para alcançar o apogeu de sua inclusão e da justiça.
Conforme a teoria do melhor valor de Ronald Dworkin, o ordenamento jurídico exige do jurisconsulto o dever de cotejar de sua axiologia a melhor forma de interpretar não só os princípios que preenchem a sistematização constitucional, como também a historicidade construída a partir de um compêndio do passado, do presente e do futuro que aquelas decisões poderão assegurar. [10]
Jurisprudência no STF
É com base nessa compreensão da jurisprudência formulada pelo Supremo Tribunal Federal que se entende ser indispensável a correção dessa grave injustiça que ofende não só os direitos personalíssimos das pessoas trans que são afetados por esta postura inconstitucional no seu post mortem, como também o direito à memória que estas pessoas merecem ter junto àqueles que ainda estão vivos e querem celebrá-los em vida na integralidade daquilo que elas próprias elegeram como o seu meio de existência plena.
Aponta a Corte Interamericana de Direitos Humanos em Opinião Consultiva (OC) nº 24 de dezembro de 2017 que o direito à igualdade e à dignidade humana, neste caso correspondentes ao reconhecimento das individualidades de gênero e sexualidade dos indivíduos, é protegido pela Convenção Americana Sobre Direitos Humanos que rege a Organização do Estados Americanos (OEA). Logo, tem valoração de convencionalidade apta a fundamentar decisum que proteja os direitos fundamentais de transgêneros [11].
Tal Convenção tem caráter vinculante a todos no ordenamento constitucional brasileiro, pois, como lembra o jurista Rogério Sanches Cunha, “um acordo internacional versando sobre direitos humanos, celebrado por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, deve obrigatoriamente ser seguido, possuindo caráter vinculante (hard law), não importando se aprovado pelo Congresso Nacional com quórum de emenda, caso em que o acordo tem status constitucional (artigo 5º, § 3º, CF/88) ou quórom simples, figurando, então, com o status de norma infraconstitucional, porém supralegal (artigo 5º, § 2º, CF/88)” [12].
Assevera a Corte Interamericana o seguinte preceito de convencionalidade que contingencia o proceder dos Estados-membros: “103. Esta Corte declarou, no que diz respeito ao direito à personalidade jurídica, protegido no artigo 3 da Convenção, que o reconhecimento desse direito determina a existência efetiva de seus titulares ante a sociedade e o Estado, permitindo-lhe gozar de direitos, exercê-los e ser capaz de atuar, o qual constitui um direito inerente ao ser humano, que não pode ser em nenhum momento derrogado pelo Estado em conformidade com a Convenção Americana. Em atenção a isso, o Estado deve, necessariamente, respeitar e buscar os meios e condições jurídicas para que o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica possa ser exercido livre e plenamente por seus titulares. A falta de reconhecimento da personalidade jurídica lesiona a dignidade humana, uma vez que nega, de forma absoluta, sua condição de sujeito de direitos e torna a pessoa vulnerável à não observância dos seus direitos pelo Estado ou por particulares”.
Em síntese, diz a Corte Interamericana que [A] mudança de nome, a adequação da imagem, assim como a retificação à menção do sexo ou gênero, nos registros e nos documentos de identidade, para que estes estejam de acordo com a identidade de gênero autopercebida, é um direito protegido pelo artigo 18 (direito ao nome), mas também pelos artigos 3° (direito ao reconhecimento da personalidade jurídica), 7.1 (direito à liberdade) e 11.2 (direito à vida privada), todos da Convenção Americana. Consequentemente, em conformidade com a obrigação de respeitar e garantir os direitos sem discriminação (artigos 1.1 e 24 da Convenção), e com o dever de adotar as disposições de direito interno (artigo 2° da Convenção), os Estados estão obrigados a reconhecer, regular e estabelecer os procedimentos adequados para tais fins.
Aduz-se que a demanda abrange não só a possibilidade de controle de constitucionalidade abstrato, com fulcro em razões para realizar a fiscalização de atos comissivos e omissivos do Estado em dissonância com o que determina a Constituição da República, como também a possibilidade de controle de convencionalidade dentro do próprio sistema jurídico brasileiro. Há reconhecido na jurisprudência da Corte Excelsa a validade da pretensão de controle de convencionalidade no ordenamento jusconstitucional, ementado in verbis pelo ministro Luiz Fux:
A Convenção Americana sobre Direitos do Homem, que dispõe, em seu artigo 7º, item 5, que “toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz”, posto ostentar o status jurídico supralegal que os tratados internacionais sobre direitos humanos têm no ordenamento jurídico brasileiro, legitima a denominada “audiência de custódia”, cuja denominação sugere-se “audiência de apresentação.” [13]
Finalizando, reputa-se relevante concitar a leitura do voto do ministro Luís Roberto Barroso no Recurso Extraordinário 845.779/SC, que equacionou o parâmetro derivado do princípio da igualdade e da dignidade humana para abranger os direitos de mulheres trans ao uso de instalações sanitárias. Lembro-o:
“Há um limite à autonomia de todas as pessoas: o dever de respeitar o espaço legítimo de liberdade e os direitos fundamentais das outras pessoas, a partir de um juízo de ponderação e proporcionalidade. Porém, a recusa ao transexual do direito de ser tratado socialmente em consonância à sua identidade de gênero não encontra fundamento legitimador em qualquer valor constitucionalmente relevante. Referir-se a um indivíduo como Senhor ou Senhora não restringe, ao menos de modo significativo, direito fundamental algum daquele que está a fazer a referência; ao passo que negar o uso do pronome feminino à pessoa que é objeto da fala e que se identifica com o gênero feminino implica rejeição ao seu próprio modo de vida, a como ela se identifica” [14].
[1] Pessoas trans e não-binárias são 2% da população brasileira, diz estudo. Jornal Estado de Minas. 10 de junho de 2024. Disponível: https://www.em.com.br/app/noticia/diversidade/2023/07/14/noticia-diversidade,1520216/pessoas-trans-e-nao-binarias-sao-2-da-populacao-brasileira-diz-estudo.shtml#:~:text=Em%20n%C3%BAmeros%20absolutos%2C%20a%20popula%C3%A7%C3%A3o,bin%C3%A1rios%2C%201%2C19%25..
[2] Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Agência Brasil, 27 de jan. 2023. Disponível: https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/direitos-humanos/audio/2023-01/brasil-e-o-pais-que-mais-mata-transexuais-no-mundo.
[3] CARVALHO NETTO, M. A Hermenêutica Constitucional sob o paradigma do Estado Democrático de Direito. In: Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira. (Org.). Jurisdição e hermenêutica constitucional no Estado Democrático de Direito. 01ª ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, v. 01, p. 27.
[4] Mendes, Gilmar Ferreira. Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 18ª ed. São Paulo: Saraivajur. p. 45-46. 2023.
[5] Mendes, Gilmar Ferreira. Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 18ª ed. São Paulo: Saraivajur. p. 187. 2023.
[6] Reputa o Professor e Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes que “[E]nsina Dworkin que os princípios, de seu lado, não desencadeiam automaticamente as consequências jurídicas previstas no texto normativo pela só ocorrência da situação de fato que o texto descreve. Os princípios têm uma dimensão que as regras não possuem: a dimensão do peso. Os princípios podem interferir uns nos outros e, nesse caso, “deve-se resolver o conflito levando-se em consideração o peso de cada um”. (Mendes, Gilmar Ferreira. Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 18ª ed. São
Paulo: Saraivajur. p. 39, 2023).
[7] STF – ADO: 26 DF 9996923-64.2013.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 13/06/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/10/2020.
[8] SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direito fundamentais na Constituição Federal de 1988. 5ª. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
[9] STF – ADI: 4275 DF – DISTRITO FEDERAL 0005730-88.2009.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 01/03/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-045 07-03-2019.
[10] QUEIROZ, Marcos. Hermenêutica Senhorial. InSURgência: revista de direitos e movimentos sociais, Brasília, v. 10, n. 1, p. 721–735, 2024. DOI: 10.26512/revistainsurgncia.v10i1.52078. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/insurgencia/article/view/52078. Acesso em: 10 jun. 2024.
[11] OC nº 24/17 disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf. Acesso em 11 jun. 2024.
[12] Cunha, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal — Parte Geral — Volume Único — São Paulo: Editora Juspodivim, p. 67, 2023
[13] STF – ADI: 5240 SP, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20/08/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/02/2016.
[14] STF – RE: 845779 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/11/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/03/2015.
Fonte: Conjur
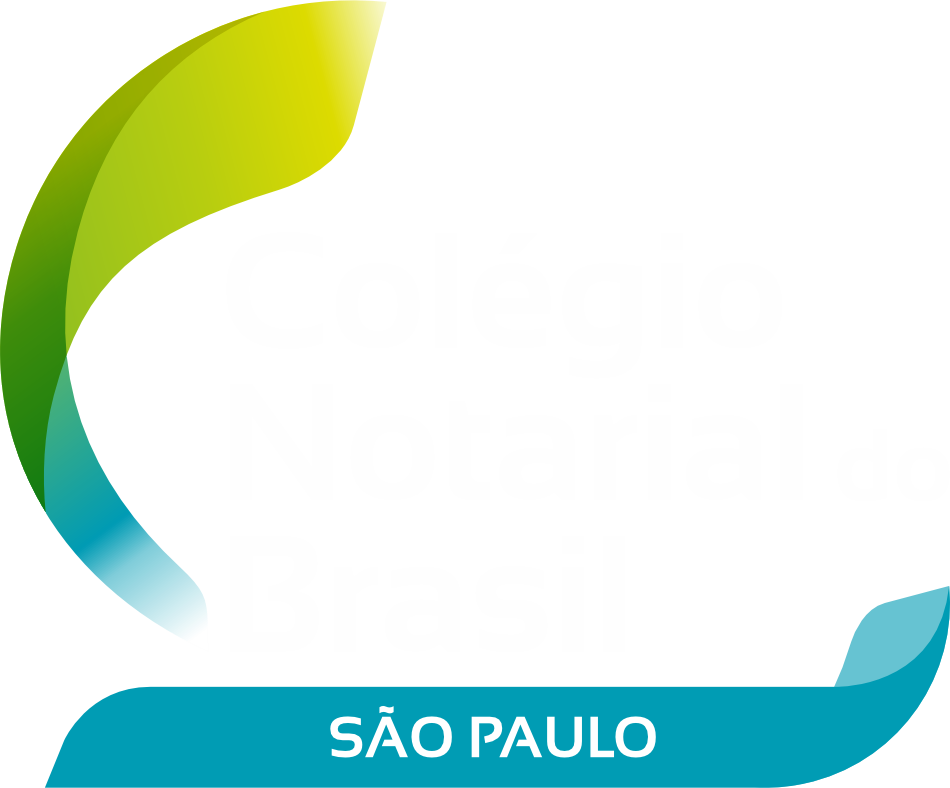


Deixe um comentário