Chamou a atenção da grande mídia, na última semana, rumoroso caso envolvendo uma empresária em estado comatoso de incapacidade temporária, submetida a curatela, e um suposto filho socioafetivo, reconhecido por decisão judicial enquanto pendente a incapacidade, ao passo que amigos e parentes da curatelada contestam a relação de filiação, afirmando tratar-se apenas do filho de uma antiga funcionária, cujos estudos e criação foram, em parte, financiados pela empresária. Pelo que constou das matérias jornalísticas, esse alegado filho foi nomeado curador da incapaz, em substituição à pessoa por ela designada em diretiva antecipada de vontade.
A par do imbróglio familiar, sempre lamentável, o litígio nos remete a uma discussão que demanda maior amadurecimento e diz respeito ao adequado enquadramento das relações afetivas nas novas categorias do Direito de Família. Experimentamos, nessa seara, uma exponencial evolução das molduras normativas, com o reconhecimento do afeto como valor jurídico, da afetividade como princípio e ambos (afeto e afetividade) passando a constituir o principal elo de formação da família brasileira do século 21. Com isso, novos núcleos familiares, desmatrimonializados ou desbiologizados, receberam acolhimento estatal atributivo de direitos e deveres, merecendo destaque a união estável, em contestável isonomia com o casamento e a filiação socioafetiva [1], em igualdade com a biológica e a adotiva, delas podendo decorrer a multiparentalidade.
São categorias jurídicas em construção, muitas vezes sem regulação legislativa alguma, delineadas a partir de uma jurisprudência de vanguarda, mas que atraem novos desafios, notadamente no que tange à diferenciação concreta, quando analisadas diretamente no tecido social e em comparação com situações aparentemente similares no mundo fenomênico [2], porém completamente distintas no plano jurídico. Assim ocorre com a união estável e a linha tênue que a separa do namoro, dito qualificado [3], fonte de intermináveis litígios e de grave insegurança jurídica. Igualmente o que se passa com a filiação socioafetiva e suas figuras assemelhadas, como o padrastio, o apadrinhamento civil ou mesmo a simples concretização do afeto filial, sem qualquer outra pretensão na ordem jurídica.
A relação de padrastio ou madrastio é o vínculo de parentesco (por afinidade) que une um cônjuge ou companheiro aos filhos(unilaterais) do outro [4]. O apadrinhamento civil está previsto no artigo 19-B do ECA e consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente, em programa de acolhimento institucional ou familiar, “vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro”.
Essas relações não podem ser confundidas com a paternidade, sob pena de se comprometer o próprio exercício do afeto. O padrasto, que desde tenra idade colabora com a criação e educação do enteado, não detém a guarda, nem interfere no poder familiar e na autoridade parental do pai biológico [5]. Pode, inclusive, anuir com o acréscimo do seu patronímico ao do enteado, nos termos do § 8º do artigo 57 da Lei nº 6.015/73 [6], sem se tornar, ipso facto, pai socioafetivo. A categoria jurídica “padrasto” independe de existir afeto para com o enteado, não obstante seja sempre desejável, e é até estimulado pelo sistema jurídico, que se formem vínculos afetivos entre eles. O que não se pode admitir é que venha o padrasto a ser surpreendido com a transformação da sua natureza jurídica, contra sua vontade, somente porque nutriu, exerceu e expressou o afeto em relação ao enteado.
No apadrinhamento civil (que não se confunde com a adoção), o padrinho ou a madrinha assumem a função de referência afetiva na vida da criança, mas não possuem qualquer vínculo jurídico (não detêm a guarda, não serão herdeiros recíprocos, nem legitimados a prestar ou demandar alimentos). Da mesma forma, o padrinho de batismo, que fornece assistência material e moral ao afilhado, também não se transforma em pai apenas pelo afeto manifestado, muito menos aquele que, sem qualquer vínculo de afinidade ou costumeiro, acolhe em casa o filho da funcionária doméstica e lhe financia os estudos. Pai/mãe se situam em outro plano, é vínculo capital da organização da família, como bem dizia o pranteado Zeno Veloso: “A mais próxima, a mais importante, a principal relação de parentesco é a que se estabelece entre pais e filhos” [7].
A filiação socioafetiva não é um “dado” (como se dá com a biológica), mas um construído a partir da chamada “posse de estado de filho”, caracterizada, ao menos, por dois elementos essenciais — tratamento e fama [8]. Assim, para ser reconhecido como filho, é imprescindível, em primeiro lugar, que exista entre os protagonistas da relação o tratamento de pai e filho. Este é tratado, criado e cuidado como tal. É chamado de filho e, também, se refere ao outro como pai ou mãe. O tratamento pressupõe, e exige, declaração de vontade expressa nos dois polos da relação, de modo a demonstrar que pais e filhos desejam serem tratados como tais [9]. Sem vontade exteriorizada não pode haver tratamento [10].
Em segundo lugar, deve haver, na comunidade, aquiescência (fama ou reputatio) de que a relação entre eles é a de filiação (e não a de padrastio ou de apadrinhamento). Todo o entorno do núcleo familiar os enxerga como pais e filhos (e não como padrasto/madrasta e enteados ou padrinhos e afilhados). É preciso muito rigor na aferição desses requisitos, de maneira a ficar extreme de dúvidas a posse do estado de filho, pública, contínua e inconteste, sob pena de se banalizar o instituto da filiação.
A propósito do processo envolvendo a conhecida empresária, caberia indagar se seria possível o reconhecimento de uma relação parental socioafetiva, na ausência de manifestação de vontade expressa da suposta mãe? O questionamento também se aplica às incontáveis demandas de reconhecimento de maternidade e paternidade socioafetivas post mortem, que pululam no Judiciário, a maioria com caráter nitidamente argentário. Tratar alguém como pai ou como filho constitui expressão de vontade livre e consciente, inexistindo tratamento paterno-filial involuntário. A referência à “vontade livre” implica a proibição de intervenção de qualquer pessoa na decisão, tanto dos pais como dos filhos, de tratarem-se como tais, cabendo exclusivamente aos membros da relação paterno-filial, individualmente considerados, manifestarem a vontade de se vincularem pelo parentesco direto na linha reta da forma mais conveniente aos seus interesses, exigindo-se, ainda, dos pretensos pais socioafetivos, que estejam aptos a exercer a parentalidade de forma responsável.
Em situações como a da aludida senhora, o convencimento judicial sobre o elenco probatório, em relação ao estado de filiação socioafetiva, não pode jamais se fiar na prova exclusivamente testemunhal, pois as testemunhas, além de contraditáveis e passíveis de todo tipo de induzimento, se limitam à apreciação de certas situações no mundo dos fatos e da aparência, sempre guiadas segundo o seu particular juízo de valor.
Muito menos serão decisivas as fotografias ou manifestações de afeto presentes em cartas, que denotam, quando muito, uma comunicação afetiva epistolar e não uma qualificação jurídica. É imprescindível, na ausência de pronunciamento volitivo vidual dos indigitados pai ou mãe, a prova documental do seu inequívoco reconhecimento da condição de filho afetivo (tractatus), veiculado, por exemplo, em testamento ou escritura pública [11]. O Provimento nº 63 do CNJ, ao tratar do reconhecimento voluntário perante o registro civil, ainda exemplifica outros documentos complementares, tais como: apontamento escolar como responsável ou representante do aluno; inscrição do pretenso filho em plano de saúde ou em órgão de previdência; inscrição como dependente do requerente em entidades associativas [12].
A declaração de vontade, portanto, é o elemento preponderante no reconhecimento da socioafetividade. Aquele que nutre e exercita o afeto, mas não deseja ser pai, não pode, apenas por isso, ser penalizado com a invasão de seu patrimônio ou com o prejuízo à legítima dos próprios filhos. Não é o mero envolvimento emocional apto, de per si, a estabelecer o vínculo de paternidade-filiação. Acolher ou proteger uma criança ou um adolescente é ato de amor, a ser sempre incentivado, não podendo fazer com que o acolhido seja automaticamente considerado como filho, com todas as consequências daí decorrentes.
Fonte: Conjur
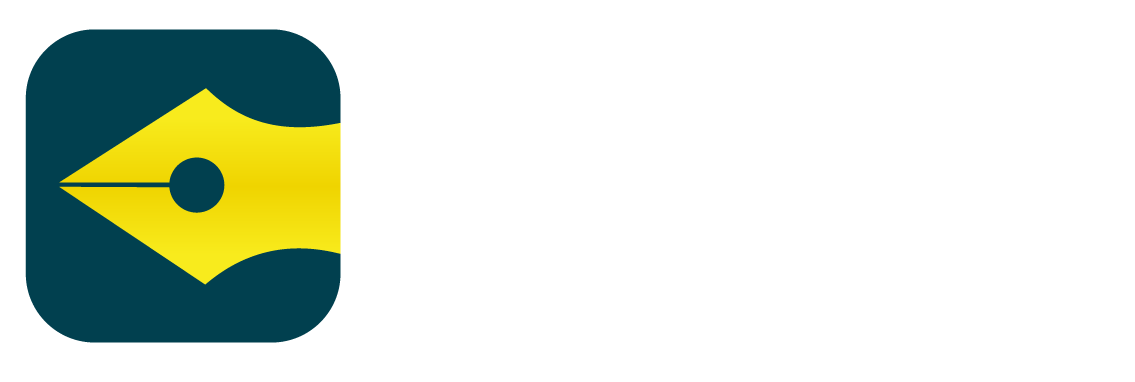


Deixe um comentário