Em cumprimento as suas finalidades estatutárias, de fomento ao estudo do direito e difusão de propostas e conhecimento (Estatuto, artigo 2º, I), o Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), através da relevante iniciativa de sua diretora de comunicação, doutora Susy Hoffmann, preenche este especializado espaço de leitura, sempre com o propósito de trazer aos leitores e associados discussões que estão sendo travadas no direito moderno, fruto do avanço da tecnologia e das novas modalidades de interrelações sociais, ainda que, neste momento, estejamos apenas Pensando a Lápis.
Dentro desta perspectiva, cabe a este singelo estudo provocar o leitor ao controvertido tema envolvendo as chamadas diretivas antecipadas de vontade (ou, como alguns preferem chamar, testamento vital) dentro da atuação médica.
Como se sabe, as diretivas antecipadas de vontade, como fenômeno jurídico, surgem dentro de um cenário de reconhecimento da plenitude da dignidade da pessoa humana, dos direitos da personalidade, ainda que na fase terminal da vida das pessoas, propiciando a diversificação da aplicação e reconhecimento do exercício da autonomia privada do cidadão, exigindo com que a ciência do direito privado passasse a estudá-las com outros olhos.
Afinal de contas, até então, o clássico ensino do direito privado se restringia as situações eminentemente patrimoniais, com os clássicos e estáticos exemplos de “Tício” e “Caio”, suas titularidades, obrigações e propriedades.
Hoje, com maior frequência, já se percebe uma transposição deste monotemático direito privado também para uma visão existencial dos sujeitos de direito[1], aceitando-se, assim, declarações vinculativas envolvendo direitos da personalidade, especialmente para garantia da dignidade dos próprios declarantes no final da sua vida, enquanto pacientes.
Neste sentido — sem nos preocupar, por ora, de apontar a origem do fenômeno no direito estrangeiro —, o Brasil tem cada vez mais se ocupado da figura das Diretivas Antecipadas de vontade, que tem seu substrato normativo tanto na Constituição (fundamentalmente artigo 1º, III), Código Civil (especialmente o artigo 15) e na Resolução nº 1.995/2012, do Conselho Federal de Medicina (CFM).
Mas então, dentro da teoria geral do direito privado, como poderíamos catalogar esta declaração antecipada do paciente, envolvendo um conjunto de desejos e vontades que surtirão efeitos na fase terminal de sua vida? Ou, como sugere o artigo 1º da Resolução nº 1995/2012 do CFM, como caracterizar juridicamente o “conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade?”
A questão não é de simples resposta, ainda mais se toda nossa tecnologia dogmática, como vimos, foi concebida dentro do prisma eminentemente patrimonial.
Inicialmente, considerando ser este conjunto de desejos uma declaração com força normativa, apta a ser modulada pelo declarante, com efeitos práticos, jurídicos e exigível, entendemos perfeitamente possível enquadrá-la como um negócio jurídico. Aliás, não só pelo CFM, mas os próprios Tribunais já reconhecem as chamadas circunstâncias negociais neste fenômeno, o que confirma a tese deste enquadramento.
Todavia, estamos a falar de um negócio jurídico de nítido conteúdo existencial, não patrimonial, em que um paciente antecipa o exercício de sua autonomia para surtir efeitos no momento em que médicos atestam seu estado de irreversibilidade, garantindo-lhe um final de vida digno, respeitando-se seus direitos de personalidade.
Vários são os temas que poderão ser objeto desta declaração: desde o conjunto de valores e desejos do paciente (declaração sobre sua religião, sobre sua concepção de vida após a morte, sob sua perspectiva de direito de alta em casos de irreversibilidade constatada por dois médicos, etc) até tratamentos que não quer se sujeitar quando constatado situação de irreversibilidade, estágio avançado e irreversível de demência, uma doença degenerativa do sistema nervoso ou muscular, certo de que nenhum ato médico lhe trará benefícios para reversão do quadro, tal como diálise, ressuscitação cardiopulmonar, grandes procedimentos cirúrgicos, alimentação parental, considerando que em estágio avançado, o paciente não sente fome ou sede, e muitas vezes este tipo de alimentação lhe causa profundo sofrimento).
Como se observa, errôneo o tratamento desta declaração como um “testamento” que, sabemos, envolve um negócio jurídico unilateral que surtirá efeitos (eficácia) após a morte do declarante. Aqui, os efeitos serão cumpridos primordialmente enquanto o paciente estiver vivo, garantindo-lhe, no mínimo, um final de vida digno.
Esta declaração exige uma forma específica? Como toda e qualquer declaração negocial, penso que devemos adotar como regra o artigo 107 do Código Civil. Todavia, esta declaração precisa ser cognoscível, até mesmo para que seja respeitada. Neste caso, se emitida oralmente pelo paciente, o médico tem o dever de registrá-la no prontuário do paciente, garantindo-lhe a ciência para o cumprimento (Resolução nº 1.995/2012, artigo 2º, § 4º).
Mas o que interessa ao presente trabalho é: trata-se de um negócio jurídico bilateral ou unilateral ? Deve o médico e os familiares consentirem com a declaração do paciente? Ou cabe a estes o cumprimento a partir da conhecimento da declaração?
Entendo que estamos a falar de um negócio jurídico unilateral, em que o paciente exprime seu direito de personalidade que deve ser respeitado no final de sua vida. Não se trata, portanto, de uma declaração sujeita a aceitação, considerando, neste ponto, que estamos a falar de um direito da personalidade do declarante, não sujeito a restrições do receptor da mensagem.
Quando muito, o médico avaliará a licitude de seu objeto, como é o caso de um paciente declarara a intenção de receber a assistência ao suicídio ou uma “morte assistida”. Neste caso, estamos diante de um objeto ilícito, algo que não poderá ser atendido pelo profissional da saúde sob pena de incorrência em fato típico (CP, artigo 122) e, em situações nebulosas, caberá ao médico submeter as diretivas ao Comitê de Bioética da Instituição de saúde a que o paciente está internado (Resolução 1995/2012, artigo 2º, § 5º). Mas esta interpretação não envolve um consentimento e sim um juízo ético e legal efetivado no momento da recepção da declaração, impondo a conclusão de que estamos diante de um negócio jurídico unilateral, que prevalecerá sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares.
Aliás, neste ponto, importante mencionar a discussão envolvendo a condição de eficácia das diretivas e que acaba esbarrando na atuação médica e dos familiares: em havendo tratamento viável, possível a aplicação das diretivas antecipadas de vontade?
Entende-se que no Brasil a condição de eficácia das diretivas envolve a situação de fim da vida, assim entendido a constatação de irreversibilidade do estado do declarante. Todavia, já se começa a pensar na sua abrangência para situações psiquiátricas, diretivas antecipadas para demência, planos de parto, ordens de não reanimação, todos veículos de manifestação da vontade do paciente com eficácia prospectiva para situações de futura incapacidade e que não envolvem, necessariamente, fim de vida. No cenário internacional, admitem as diretivas antecipadas genericamente para situações em que o paciente não possa expressar sua vontade, sem condicionar sua eficácia a situações de fim de vida, por exemplo, Espanha , Inglaterra , Portugal e Alemanha . Assim, afirma-se que não acompanha o avanço doutrinário a forma como a regulamentação brasileira foi proposta, limitando sobremaneira o espectro de abrangência das diretivas antecipadas.
Dentro deste contexto, o negócio jurídico unilateral existencial, tendo como objeto a proteção e exercício dos direitos de personalidade do paciente, possui caráter vinculativo, só podendo deixar de ser cumprido em casos de ilicitude de seu objeto (ex. morte assistida, eutanásia, viabilidade de tratamento ou ausência de estado de irreversibilidade) ou, eventualmente, o desconhecimento da diretiva antecipada do paciente.
Temos defendido que a violação da vontade do paciente pelos familiares, além de uma hipótese de dano injusto, poderia também envolver uma hipótese de indignidade, se entendido que o artigo 1814 envolve exemplificativas e não taxativas, especialmente se se tratar de ofensa aos direitos de personalidade em geral.
Mas em relação ao médico?
O desrespeito desta diretiva envolve não só uma infração ética, mas, fundamentalmente, uma ofensa a um bem juridicamente tutelado.
E como tal, estando diante de um dano injusto aos direitos de personalidade do paciente, passível a imputação da responsabilidade civil médica, responsabilidade esta que poderá ser pleiteada não só pelos familiares (CC, artigo 12, § único) mas também pelo mandatário da saúde (Resolução nº 1995, artigo 2º, § 1º) que, enquanto cumprindo e executando seu mister na defesa dos direitos da personalidade do paciente, poderá ter seus poderes estendidos mesmo após da morte do paciente (tal como preconizado analogicamente nos artigos 689 e 690 do Código Civil).
Nota-se, portanto, que hoje a juridicidade e a exigibilidade das diretivas não mais se questionam, sendo importante mecanismo de exercício da autonomia e garantia de direitos da personalidade no final da vida do declarante. Apesar do desconhecimento por parte dos médicos, o seu descumprimento poderá trazer consequências da ordem ética e civil a exigir, portanto, a reflexão por parte da doutrina sobre o papel das diretivas na garantia da dignidade dos pacientes.
Fonte: Conjur
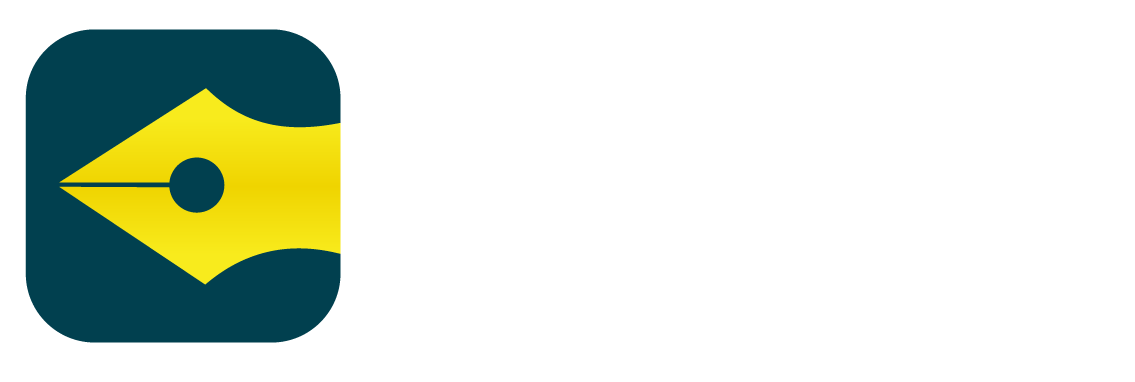


Deixe um comentário